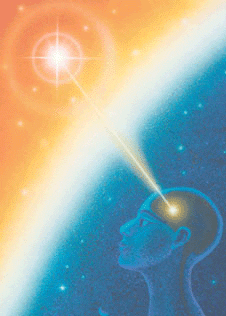Elaboração do luto no âmbito familiar.
O fenômeno suicídio não só mobiliza as emoções coletivas de uma sociedade, como adquire uma dimensão política, ideológica e social em torno da perspectiva de vida, já que muitas vezes diversos fatores de contexto não permitem que essa perspectiva seja desenvolvida plenamente. É fundamental que os profissionais que intervêm no processo de condutas suicidógenas tenham em mente a necessidade de observar o conjunto das emoções na história de vida pessoal e coletiva da população como um bem social indispensável.
O suicídio nas populações indígenas – em especial aquelas que possuem altas taxas, talvez as maiores do Brasil, como os Guarani Kaiowá – é altamente significativo como expressão do mal-estar social, mas essa situação não é exclusiva dos povos indígenas. Esse fenômeno é observado em diversos setores sociais no país.
Interessa-nos entender esse fenômeno em termos de suas manifestações pessoais e como um fenômeno social. No caso dos indígenas, chama a atenção que isso acontece na maioria dessas populações do mundo. Na publicação da Academia Internacional de Pesquisa em Suicídio (2006)7 encontram-se evidências sobre essa questão, que é extremamente grave. O suicídio indígena apresenta taxas elevadas no Canadá, Estados Unidos, Noruega, Austrália, Nova Zelândia e Brasil. A questão é que, na diversidade dos modelos econômicos, políticos e sociais desses países, apresenta-se a característica comum de que os indígenas se suicidam de dez a vinte vezes mais que a população em geral. É significativo que a maioria destes suicídios se observe na população jovem, predominantemente masculina, mas também é possível enxergar altas taxas de suicídio feminino a partir dos 10 anos de idade.
Na maioria das vezes isso é atribuído a fatores culturais, como um caráter imputado pela sociedade majoritária. No entanto, isso requer uma melhor definição sobre a questão da cultura, que deve ser contextualizada nas condições materiais de vida em que o suicídio acontece com alta incidência. Isso permite compreender melhor como as culturas interpretam os modos de morrer e sua correlação com as perspectivas de vida em economias de subsistência e de confinamento nas “reservas”. Além disso, é preciso ver a profundidade do fenômeno em termos psicológicos em um tipo de população que não tem uma Psicologia exclusivamente centrada no indivíduo. Esses povos possuem um modo de vida com maior interdependência coletiva, que define uma maneira de se vincular, de como se elaboram as emoções e de como se constroem os fenômenos em torno dos eventos da vida e da morte.
Em muitas culturas indígenas, a sequência de suicídios é entendida como um modelo explicativo de “contágio”. Assim como as emoções que são projetadas ou transferidas aos significados do ato suicida em sociedades corporativas ou de limitada expressão das individualidades, as atribuições da causalidade do ato não são atribuídas apenas aos problemas da pessoa. Trata-se de um ato de vulnerabilidade social em que cada óbito pode acontecer em diferentes pessoas, ainda mais com aqueles vínculos familiares ou de amizade muito próximos (por exemplo, a atribuição da causalidade ao feitiço).
Entre os Guarani Kaiowá, o corpo do suicida deve ser retirado o mais rápido possível para evitar a exposição pública, especialmente das crianças. No caso dos jovens que reproduzem o ato suicida, e ainda que muitos desses jovens não necessariamente compartilhem os paradigmas de sua tradição cultural, é entendido socialmente que existem impulsos de morte estimulados pelo espírito do suicida que visita os familiares – ou fala com os amigos para não ficar na solidão e solicita sua companhia para a passagem a outro mundo. Por esses princípios, os rituais funerários do suicida diferem de outros óbitos considerados como naturais.
Estatisticamente, no Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI/MS), 39% do total de mortalidade no ano de 2012 ocorreu por causas externas. Estes óbitos, além dos casos de suicídio, correspondem aos homicídios, acidentes de trânsito, diversos traumatismos, queimaduras, etc.
Nesse sentido, é fundamental sublinhar que o suicídio é um ato de morte entendido formalmente como autoagressão, que não está isolado do contexto social de violência em que a agressão dirigida aos outros é expressa mediante traumatismos nos quais, particularmente os homicídios, também apresentam taxas de incidência significativas.
A história de vida coletada nos casos de suicídio permite observar que a enculturação desde a primeira infância acontece no contexto da violência estrutural da sociedade em que os modos de punição e gratificações familiares são variáveis (flexibilidade – rigidez). O início precoce da sexualidade, a rápida mudança sociocultural dos jovens – que são mais influenciados pelos modelos externos a sua sociedade –, o impacto das novas tecnologias de comunicação, acabam por gerar uma descontinuidade das normas e valores geracionais, tendo como consequência o aumento dos conflitos na família (pais – filhos).
Esse cenário nos leva a refletir na perspectiva da saúde pública, clínica, do conhecimento da construção sociocultural do processo de morte, em que o suicídio na sociedade indígena constitui um modo de morrer em um contexto de violência como um fundo contínuo e permanente desde o momento de nascer e que o acompanha durante toda a vida desta população.
No gráfico seguinte, são apresentadas as taxas de homicídio e suicídio e suas tendências (algébricas):

Nas tabelas seguintes, são apresentadas as taxas de suicídio por sexo e grupos etários, coletadas desde a criação do DSEI Mato Grosso do Sul.

Quando observado o perfil da incidência dessas taxas (gráfico seguinte), pode-se inferir que, a partir de 2012, será iniciado um novo aumento da incidência em ambos os sexos. Esses aumentos cíclicos das curvas manifestam momentos hiperendêmicos no fenômeno do suicídio em todas as sociedades.
Em relação ao suicídio feminino, o aumento das taxas em idades mais elevadas (maiores de 30 anos) foi explicado desde a perspectiva qualitativa, devido ao fato de terem sido registrados casos de suicídio em mães que tiveram óbitos de filhos por suicídio ou homicídio. Questão que nos coloca o desafio da prioridade na intervenção no luto familiar, especialmente o feminino.

Para compreender o processo de luto, adotamos o modelo proposto por Cleiren e Diekstra (1995):

Esse modelo nos permite entender os mecanismos do impacto do suicídio, que acontecem com aqueles chamados sobreviventes, que afeta principalmente os familiares ou amigos do falecido, assim como os processos de resposta à perda, entendido como a elaboração do luto. Isso representa um jogo de forças, de tensão entre a magnitude da perda e os recursos para tratar de neutralizar, de mitigar e de superar essa perda.
A magnitude da perda tem uma intensidade que está relacionada segundo o vínculo mantido entre o suicida e as pessoas com as quais ele se relaciona, isto é, a intimidade, intensidade do relacionamento, frequência do contato, ou os tipos de ambivalência mantidos durante o vínculo. Os modos de morrer também influenciam o processo de luto, por exemplo:
• O impacto de uma morte inesperada ou esperada segundo as manifestações prévias da pessoa (expressão de ideações de morte, tentativas de suicídio, condutas de risco etc.);
• A consideração social de que uma morte é natural ou não natural. Na perspectiva da cultura Guarani Kaiowá, o suicídio é sempre considerado como uma morte não natural já que, na maioria dos casos, é atri buída à intervenção da feiticeira como modelo explicativo. Segundo relatos de sobreviventes às tentativas de suicídio, a morte provocada seria um ato natural de passagem para “a terra sem mal”, o ideal de mundo na cosmovisão dessa cultura;
• O método ou o tipo de violência utilizada pode variar entre a utilização de químicos (drogas ou venenos) até as armas de fogo. Entre os Guarani Kaiowá o método mais frequente utilizado é o enforcamento ou a sufocação (estrangulamento das vias aéreas com cadarços, roupas, com a pessoa posicionada de joelhos e as cordas ou outros meios fixados em objetos de baixa altitude).
O impacto da perda acontece de maneira imediata nos familiares e amigos em todas as sociedades. Esse impacto é mais evidente nos óbitos por suicídio comparados com outros tipos de morte. Esse é um fenômeno multiforme, complexo, construído e manifestado social e culturalmente.
No livro Suicídio e Luto, são identificados sete componentes no processo de elaboração do luto no âmbito familiar. O autor Hewett J. sublinha que essas etapas não acontecem sequencialmente, elas podem se manifestar de maneira simultânea ou sobreposta. Isto é devido, como já foi mencionado anteriormente, à variabilidade observada nas pessoas e também aos diversos contextos sociais e culturais.
As principais manifestações observadas são:
1. Estado de choque
Isso acontece de maneira imediata, geralmente as pessoas se perguntam:
Por que isso aconteceu? Quais foram as causas? O que fiz de errado? Outras pessoas, apesar das evidências, negam o fato nos primeiros dias do choque. Podem ser observados sinais e sintomas físicos como: aperto na garganta, mal-estar estomacal, diarreia, respiração ofegante etc.
2. Alívio
Esse sentimento é muito comum quando os vínculos psicológicos e as relações cotidianas foram superficiais ou destrutivas, mas pode ser observado que esse estado pode ser seguido de um estado de choque.
3. Catarse (do grego “purga” e “purificação”)
Frequentemente é observada após o estado de choque uma etapa em que o conjunto das emoções é expresso, às vezes, de maneira incontrolável, com emoções sobrepostas – geralmente observado nos momentos relacionados ao funeral. Deve ser sublinhado que essa situação apresenta uma grande variação segundo as culturas e os tipos de rituais mortuários.
A catarse pode também ser autorreprimida, mas em algum momento essa etapa estará presente. Pode ser estimulada como um momento importante para aceitação dos fatos, e clarear as dúvidas ou ajudar nas respostas que permitam elaborar o luto. Deve ser ressaltado que a catarse é também uma experiência angustiante.
4. Depressão
Geralmente acontece após a “descarga emocional”, uma depressão nos desejos, e as emoções ficam menos intensas. Existe uma depressão reativa que é variável e depende da experiência de vida das pessoas. O período depressivo pode durar meses e varia segundo as respostas de cada pessoa, podendo durar anos naquelas que procuram o isolamento. Esse estado deve ser entendido como uma injúria emocional e deve ser tratado nos primeiros meses, já que a ajuda externa é fundamental para superá-lo. A intervenção deve procurar evitar que se instale um quadro crônico para prevenir e impedir diversos comportamentos derivados desta situação, especialmente naqueles que se manifestam como autoagressivos dentre centenas de sintomas psicossomáticos (expressão física de sinais originada pelos estados emocionais).
5. Culpa
Essa condição, expressada também como sentimento, deve ser observada com cautela, considerando os paradigmas de cada cultura. Em muitas sociedades, os fatores de causalidade do suicídio podem ser atribuídos a um conjunto de causas externas, por exemplo: “O espírito da pessoa estava enfraquecido e foi pego por um espírito maligno que o levou a se matar”, “feitiçaria”, “loucura” etc. Os fatores como os vínculos afetivos e outras circunstâncias na vida emocional adotam um papel secundário, apenas associado como uma manifestação da causalidade não natural.
Isso não evita que algumas perguntas estejam presentes em membros da família ou amigos: Eu poderia ter ajudado? Poderia ter feito algo para evitar a morte? O que eu fiz de errado?
No caso da identificação do sentimento de culpa, apesar de diversas formas de minimização do impacto do evento (como: “foi uma fatalidade...”, “vivia com muitos problemas...”, “estava fora de controle”, “foi um ato impulsivo” etc.), isso nos remete à questão da responsabilidade sobre os fatos. A culpa se apresenta de diversas maneiras, muitas vezes de forma fantasiada, já que pode ser consciente ou inconsciente. No caso do suicídio de um cônjuge, imediatamente deve se prestar muita atenção sobre o parceiro (a), já que o casal, objeto de um papel público, sente ou é sinalizado como ter falhado ou é responsável pela situação que levou ao suicídio. Muitas questões são colocadas pela família, por exemplo: Por que não falou sobre a gravidade dos problemas? Por que não foi forçado a solicitar ajuda?
Nas sociedades indígenas, a culpa pode ser extensiva à família de um dos parceiros, por exemplo: em um caso de suicídio de casal, a família do marido acusou a família da esposa de ter assassinado o casal e simulado o suicídio e vice-versa.
A recomendação para a pósvenção do suicídio, nesses casos, é racionalizar o ato suicida como a consequência do processo vivido pela pessoa, objetivando as condições emocionais e as limitações sentidas na resolução do acúmulo de problemas. Não se trata de transferir a culpa ao suicida, mas sim uma análise que permita obter mais conclusões para a mudança de atitudes e comportamentos, visando alternativas de maior observação das emoções não somente na resolução dos problemas, também para gerar um reforço da proteção e cuidado pessoal e social do outro.
6. Preocupação com a perda
Durante a depressão, muitos momentos são dominados pelo pensamento acerca do suicídio, que provocam emoções muito dolorosas. Devem ser consideradas com situações esperadas no processo de luto.
Existem muitas vias ou maneiras de manifestar o sentimento de perda e estas podem ser manifestadas durante o sonho. Às vezes um familiar adota atitudes de identidade com o falecido mediante a mímica (repetição de atos e modos de agir, inclusive a imitação do tom da voz). Em outros casos há a idealização do amigo morto, e podem ser estabelecidos rituais e comemorações baseados na imagem do colega falecido. Ao longo do tempo, acontecem momentos de lembranças específicas do evento, de maneira descontinuada e que podem ser periódicas, onde cada um deles é vivenciado como momentos de fragmentos de luto.
7. Raiva
Essa etapa é um dos estados emocionais que podem ser considerados como uma meta da pósvenção. Ainda que a raiva seja expressa de forma tumultuada no âmbito familiar, é um sintoma que indica quando a pessoa está saindo das profundezas da depressão. Os desejos agora estão sendo manifestados sem medo e já é uma manifestação saudável.
A raiva é provocada e explica um conjunto de fatores que acontecem na mente:
• As pessoas sentem raiva por não interferir para evitar o suicídio, que é diferente do sentimento de culpa – que pode ser expressa como um sentimento autodestrutivo. Nesses casos, é necessário redirecionar o objeto da raiva para ser exteriorizada, como por exemplo, mediante atividades físicas intensas;
• É uma resposta ao “... abandono do vínculo por parte do suicida” é assumir o fim dessa relação que já não é possível na vida material de reciprocidade e de retroalimentação;
• Como o evento de suicídio tem um caráter devastador nas pessoas próximas, a raiva supera esse efeito como resposta ao sentimento de agressão afetiva por parte do suicida.
No caso dos indígenas temos que considerar, além do anterior, o contexto da crise social, crise familiar, crise pessoal, que nos leva a questionar por que algumas famílias apresentam mais dificuldades na elaboração do luto, apesar de estarem em um contexto de vida material semelhante de sobrevivência.
A variabilidade de resposta à perda nos leva, em primeiro lugar, a identificar e estimar o risco familiar. Isso operacionalmente é a identificação de casos de óbitos por causas violentas nas famílias extensas e que habitam em distintos domicílios, assim como a sequência temporal dos óbitos. Mas as necessidades de intervenção sobre o fenômeno de suicídio, homicídio e luto ainda nos demandam um maior conhecimento para poder compreender cada efeito e os sintomas manifestados no luto que enunciamos anteriormente.
Nesse sentido, os recursos para mitigar os efeitos da perda são fundamentais para que os recursos adaptativos à nova situação sejam estimulados mediante o suporte emocional. No caso dos indígenas, o suporte social é fundamental entre os jovens, quando acontece um suicídio paterno, já que muitas vezes essa figura de referência é substituída por um familiar, geralmente um tio. Observamos casos que na ausência desse suporte a vulnerabilidade de algum familiar (especialmente a mãe) que não consegue elaborar um processo de luto, a perda de significados no sentido da vida gera um estado de autodestruição, manifestado pelo isolamento, abuso do consumo de bebidas alcoólicas, brigas etc. Isso provoca um estado de autoexclusão dentro da família e da sociedade até justificar sua morte (por suicídio ou outras violências) após seis ou mais anos do acontecimento do suicídio de um familiar.
Os tipos de recursos a serem utilizados dependem das características e impactos da perda sentida. Nessa percepção subjetiva da perda deve ser observada também a percepção das habilidades para lidar com ela, de modo a estimular ou apoiar os recursos adaptativos da pessoa à nova situação. A questão dos significados sociais e culturais da perda é fundamental na multiplicidade de situações que vivem as pessoas para poder definir as especificidades das intervenções psicossociais. Os esforços para reduzir o impacto da perda podem ser misturados com ações de proteção e apoio reativas e/ou proativas, segundo os sintomas e momentos do processo de luto.
Na pósvenção realizada no caso do suicídio indígena ou dos homicídios, devem ser considerados certos aspectos particulares:
• A evidência empírica demonstra que a sequência temporal entre os casos acontecidos na mesma família gera um impacto imediato. Consequentemente, consideramos que a pósvenção deva ser realizada no máximo nos 15 dias após o evento. Ainda que em termos gerais se mencione que os indígenas são impulsivos, o processo de construção da morte leva muitos anos, com uma série de sintomas e sinais muito sutis e, muitas vezes, sem nenhum tipo de manifestação significativa;
• A escuta é fundamental porque geralmente o jovem indígena tem voz e escuta limitada entre os adultos e tem um limitado apoio sobre o que ele espera;
• A pósvenção deve incluir um tipo de apoio físico ou corporal, já que a relação entre a Psicologia e o paradigma cultural da concepção de espírito é de fundamental importância. Essa situação de conflito se expressa no corpo, especialmente na síndrome cultural conhecida como Nhemerõ – termo que pode ser traduzido como “dor de romper o coração”, ou seja, o sofrimento psíquico é simbolizado no órgão que expressa as emoções;
• A questão do tempo (o suicídio acontece geralmente durante a noite) e o espaço (aconteceram casos em que o ato suicida é realizado no lugar onde seu irmão ou parente foi assassinado, ou perto do domicílio) representam que o ato de morrer é um ato simbólico que reúne um espaço de morte essencialmente familiar;
• As particularidades emocionais observadas em conflitos familiares ou de atos de censura como a humilhação pública do jovem possuem uma ressonância de uma maneira tão significativa que pode ser causa ou motivo de suicídio.
A pósvenção na sociedade indígena requer um conhecimento profundo das características dos eventos de suicídio como condição essencial para intervir no processo de luto. As dificuldades dos (as) colegas psicólogos (as) e dos outros profissionais de saúde na atenção básica devem incluir a interpretação cultural dos sintomas, suas manifestações familiares e sociais, e suas dimensões simbólicas em uma situação de mudança sociocultural intensa. Além dos conhecimentos aportados pela Suicidologia, baseada nas sociedades de cultura ocidental, ainda é necessária a incorporação dos conhecimentos do fenômeno de suicídio fundamentado por paradigmas de outras culturas e de sociedades que vivem em condições de subsistência e de restrições fundamentais na sua perspectiva de vida. Sem dúvida, esses conhecimentos constituem uma contribuição fundamental à saúde pública, especialmente sobre a visão homogeneizante dos programas formulados nas instituições públicas.