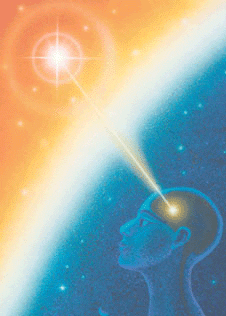As pesquisas apontam que, em pelo menos 90% dos casos de suicídio, encontramos um transtorno mental diagnosticável.
Gostaria de começar, talvez pelas portas dos fundos, tratando do contexto no qual uma morte se dá, ou seja, qualificando o suicídio entre outros modos de morte. Estamos acostumados a tratar de causas de morte no sentido médico tradicional, mas a compreensão da morte como fenômeno ultrapassa esses limites. Dessa compreensão, depende o desenvolvimento de estratégias de prevenção da mortalidade precoce, que requer a classificação das causas de morte em modos de morte. Nessa concepção, causas e modos de morte são conceitos distintos.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que esses modos de morte (provocados por causas externas) ocorrem em maior freqüência em praticamente todos os países, especialmente entre os mais jovens. Em geral, os acidentes estão em primeiro lugar, seguidos de homicídios ou suicídios, que disputam a segunda ou terceira posição. Constatamos, portanto, que os três modos de morte mais importantes na nossa sociedade hoje são resultados de comportamentos.
Os indicadores mais diretamente apontados pelas pesquisas como associados a esses modos de morte são também de ordem comportamental, emocional ou psicológica e estão associados ao contexto familiar, ambiental, social, econômico e cultural. Exemplos comuns de fatores de risco incluem a experiência de privação, negligência ou abuso na infância, violência doméstica, condição socioeconômica precária, falta de acesso à educação de qualidade e à oportunidade, problemas graves em pelo menos um dos cuidadores (alcoolismo, doenças mentais, ausências prolongadas, desemprego etc.), ser vítima de bullying, isolamento ou problemas interpessoais graves, transtornos mentais diagnosticáveis, uso de drogas e álcool, impulsividade e hostilidade e a vivência de afetos intoleráveis (desespero, depressão, desamparo, desesperança, abandono, humilhação, vergonha, ódio, inveja, entre outros).
Essa constatação aponta para a função e importância da inserção da Psicologia enquanto profissão em vários contextos da sociedade. Também aponta para esses comportamentos extremos como indicadores finais de uma longa cadeia de processos que comprometem a qualidade de vida e bem-estar pessoal e social. Os dois exemplos mais nítidos de uma longa e complexa cadeia de fatores que levam a resultados indesejáveis são a violência e o suicídio.
As pesquisas apontam que, em pelo menos 90% dos casos de suicídio, encontramos um transtorno mental diagnosticável. Apontam também que o suicídio ocorre com frequência em condições de inacessibilidade ao tratamento ou em um período de ruptura no processo de tratamento, seja por dificuldades da pessoa em risco ou por dificuldades do profissional em lidar com os desafios das demandas do tratamento ou da natureza da relação com o paciente. Pessoas que fazem tentativas graves, com danos médicos, relatam um estado de sobrecarga emocional, uma experiência de sofrimento subjetivo insuportável, do qual sentem a necessidade definitiva e imediata de alívio. Apesar da evidência de haver um processo de sofrimento significativo e muitas vezes prolongado, essas observações reforçam a concepção de que essa seria uma morte evitável, considerando que esses estados tendem a ser transitórios e podem ser transformados com escuta e tratamento adequados.
O impacto de ser sobrevivente tem sido mais extensamente tratado no contexto das famílias enlutadas por ter perdido alguém pelo suicídio. Estudar os processos de ser sobrevivente nos ajuda a compreender também o processo de sofrimento antecipatório de uma família que acompanha uma pessoa em sofrimento grave com ameaça de suicídio. Existem também famílias que são surpreendidas por não terem percebido, compreendido ou valorizado em tempo a natureza do risco. Para estas, compreender como não haviam percebido, compreendido ou valorizado o risco em tempo pode ser um processo doloroso, mas extremamente necessário, de se identificar e elaborar sentimentos de raiva e culpa. Dinâmicas de raiva e de culpa tendem a dificultar uma a elaboração da outra. Quando alguém da família tinha o conhecimento do risco, sentimentos de impotência e fracasso nos cuidados com o ente querido se agregam ao processo. Culpabilização (projeção da culpa) e autoflagelo não são experiências incomuns.
Para muitos, principalmente os mais próximos, a vida fica radicalmente transformada. Então, as pessoas precisam dar significado a essa perda, buscar um sentido em sua vida para o ato de pôr fim à própria vida, como fez o ente querido que se foi. A partir do momento em que uma perda desse tipo fica constituída na história de alguém, essa pessoa tem a sua vida irremediavelmente marcada por um evento. Passamos a chamá-los de sobreviventes, por terem suas vidas marcadas por um evento extremo: são sobreviventes a um suicídio.
Até aqui, vimos uma breve colocação da experiência do sujeito em risco e da família sobrevivente, o que tem sido muito bem tratado na literatura. Gostaria de considerar, no restante deste texto, os efeitos, no profissional, de trabalhar em um contexto no qual pode vir a se tornar um sobrevivente. Os profissionais de Saúde Mental convivem com o risco ou a possibilidade – e em alguns casos, a probabilidade – de se tornar um sobrevivente. Ou seja, esses profissionais podem, de fato, vir a perder um de seus pacientes. O impacto da perda de uma pessoa pelo suicídio não se limita à família ou aos amigos. Todos que convivem com a pessoa em sofrimento e em risco de suicídio, inclusive o profissional, são impactados por esse processo. O profissional também pode ser afetado de modo decisivo.
Sobre a atuação técnica, há a expectativa de que os profissionais de saúde desenvolvam ações preventivas, ou seja, ações: (1) dirigidas para as pessoas que precisam de suporte, por estarem em sofrimento psíquico intenso ou grave com ideação suicida atual ou comportamento suicida passado; (2) dirigidas para as famílias dessas pessoas; e (3) dirigidas para as famílias enlutadas por suicídio. Não é a atividade técnica que parece ser o maior dos entraves para o exercício profissional diante do risco de suicídio. Nesse trabalho, o profissional pode acabar se vendo diante de um paciente com o desejo de morte, que considera sem sentido ou, pelo menos em nossa cultura, que desafia nossas expectativas mais corriqueiras, pois não se espera que alguém queira ou possa tirar a própria vida.
Uma maneira possível do profissional desenvolver uma condição favorável de enfrentamento dessa situação, sem que ele próprio entre em sofrimento, é se permitindo se pensar também como um sobrevivente. Primeiro, nessa situação da convivência antecipatória com o risco de suicídio, depois, na relação de si com um suicídio consumado e, finalmente, na sua relação consigo mesmo, considerando sua posição pessoal diante do valor da vida e de sua posição frente à morte.
Considerando haver um treinamento básico no acompanhamento desses casos e havendo disponibilidade de supervisão (pelo menos nas situações mais difíceis), pensar-se antecipadamente como sobrevivente é um caminho mais seguro para se desenvolver empatia e habilidades técnicas no trato com casos de risco. Eu preciso primeiro entrar em contato com o que eu sinto para poder ter acesso à experiência do outro. No conceito de empatia, a expectativa é que eu possa ter uma sensibilidade para o sentimento do outro. Por outro lado, se eu tenho esse bloqueio em relação aos meus próprios sentimentos, essa via de acesso ao sentimento do outro fica prejudicada. Dessa forma, aceitar os meus melhores e piores sentimentos, minhas angústias e conflitos, faz parte do processo de elaboração do profissional que deseja compreender a dor da perda pelo suicídio, seus efeitos nas pessoas e seu efeito na pessoa em risco. Nesse processo de elaboração, o profissional se sairá melhor se tiver o suporte necessário tradicionalmente conferido nas relações de supervisão, preferencialmente com um profissional que tenha feito esse percurso.
Por isso, é importante criar recursos internos para a realização desse trabalho. Suporte externo é também fundamental: é necessário buscar suporte relacional de colegas e supervisores, além do institucional, que deve prover condições necessárias para a atenção a pessoas em risco. É muito importante que os profissionais não fiquem sozinhos ao trabalhar com casos ou situações clínicas difíceis; que procurem estar acompanhados por colegas; que participem de grupos de discussão nos quais possam expor casos difíceis e tirar dúvidas, visando uma definição de estratégia terapêutica mais segura. Eu gosto de dizer que, no tratamento de situações limite, é importante socializar a dúvida.
Essa recomendação é válida até mesmo para o profissional experimentado, que de tempos em tempos se beneficiará da consulta a colegas sobre casos que encontra. Quando compartilho uma situação clínica que eu estou vivendo, eu posso buscar uma validação daquela reflexão ou decisão que tomo e, com isso, diminuir a minha carga de sofrimento ou ansiedade, sentindo-me validado pela escuta e pelo olhar de um outro profissional, que pode também acompanhar o meu raciocínio e talvez até, se for o caso, ter sugestões relevantes, ou me alertar para questões importantes que possam de alguma forma me ajudar a alcançar uma conduta mais segura e, portanto, menos ansiosa.
A elaboração consciente e suficiente dos motivos para a emergência de um afeto (contratransferencial) no profissional, mesmo que desagradável, pode conduzir a uma ação terapêutica adequada. Essa distinção é, portanto, significativa: primeiro, na base, existem afetos contratransferenciais que são geralmente aceitáveis como parte integrante do processo de elaboração do profissional; segundo, em decorrência desses afetos, podem existir atuações contratransferenciais que se contrapõem às ações terapêuticas.
Muitas são as formas e manifestações dessas reações que o profissional pode ter em relação ao paciente suicida. Existem duas classes de atuações contratransferenciais indesejáveis, baseadas na aversão ou no ressentimento.
Primeiro, ao buscar apoio e encaminhamento em outros profissionais que se sentem em condições de aceitar e trabalhar com um paciente como esse e, segundo, ao acompanhar o encaminhamento até sua finalização e continuidade de tratamento. Chamamos esse processo de transição de cuidados. Uma situação terapêutica indesejável (não estar em condições de acompanhar um paciente) é transformada em estratégia eficaz de continuidade do processo terapêutico. Por outro lado, quando o terapeuta já está em contato com o paciente há algum tempo e desiste inconscientemente, quando não é capaz de elaborar esses afetos na consciência e começa a apresentar dificuldades na escuta, a tendência desses sentimentos contratransferenciais é criar um contexto de ruptura no tratamento, que pode ser concebido como abandono ou abuso terapêutico. O profissional pode até permanecer lá, mas já não está lá em uma função terapêutica. Ele afasta-se emocionalmente desse paciente ou terá reações adversas. Pode ser difícil ou doloroso perceber que é isso que está acontecendo, pois essa percepção é contrária aos ideais profissionais.
Nesse contexto, as dificuldades, déficits ou vulnerabilidades do paciente tendem a ser interpretadas como má vontade, má-fé, como se ele não mudasse “porque não quer”. Por trás, existe uma visão autocentrada do profissional de que o paciente deve atender ao seu desejo de ajudar, ou seja, deve corresponder a sua visão de si mesmo como “bom” terapeuta e não deve sobrecarregá-lo com afetos indesejáveis. Essas cobranças frequentemente resultam em ações do profissional, que são vivenciadas pelo paciente como confrontos agressivos ou punitivos. Como exemplo, já testemunhamos tratamentos punitivos prescritos para pacientes após tentativas de suicídio, como a internação e intervenção médica desnecessária.
Esses exemplos são graves, mas existem muitas formas amenas de se atuar sentimentos de irritação ou ressentimento para com o paciente. Pacientes indesejados tendem a receber as piores opções de horários, tendem a ter seus horários cancelados ou remarcados com maior frequência, ou percebem atrasos no atendimento. Terapeutas tendem a culpar esses pacientes por não aderirem ao tratamento, por não observarem as regras. Nesses exemplos, podemos perceber uma mistura de sentimentos de aversão, irritação e ressentimento.
Em outros termos, o déficit ou vulnerabilidade na capacidade de organização psíquica tem bases neuropsicológicas que alteram as possibilidades de adaptação e enfrentamento da realidade, frente às relações e às demandas da vida. Esse paciente encontra-se aprisionado em uma organização psíquica precária e, para sair dela, precisa de uma relação de escuta estável, confiável e capaz de compreender o seu funcionamento em profundidade para que uma nova reorganização da subjetividade possa se constituir na relação. No fundo, essas pessoas estão tentando, desesperadamente, comunicar esse sofrimento da melhor forma que podem. Nós, terapeutas, precisamos encontrar recursos pessoais para entrar em contato com tamanha dor psíquica.
Há uma tendência a tratar esse paciente como se ele estivesse “fazendo isso para incomodar”. No contexto do hospital, isso é comum, porque o paciente está ali, mas não tem uma dor visível, não tem uma ferida aberta e as pessoas não compreendem que esse tipo de sofrimento seja tão intenso e que demande atenção de saúde com cuidados especiais e específicos. Então, levar a sério uma ameaça de suicídio é sempre muito importante, independentemente de sua gravidade. Levando essa ameaça a sério, nós criamos uma possibilidade de que essa pessoa se sinta ouvida. Quando essas pessoas se sentem ouvidas, a vida delas começa a se transformar, não porque nós a “curamos”, mas porque criamos a possibilidade dela começar a se entender e a descobrir novas alternativas no encontro com uma alteridade capaz de assimilar e elaborar seu sofrimento. Quando se sentem ouvidas, essas pessoas relatam a importância e a grande diferença que essa oportunidade lhes confere na vida.
A tentativa de suicídio coloca a sociedade diante de um dilema muito grande. As pessoas que sofrem, seus familiares, a maior parte dos profissionais de saúde e a grande maioria dos que cuidam das políticas de saúde ainda permanecem quase inteiramente imobilizados diante desse dilema. Compete a nós, profissionais de saúde, quebrar o silêncio e a invisibilidade desse tipo de sofrimento, quebrar esse ciclo de dor e reprodução de situações traumatizantes. Infelizmente, algumas pessoas acham que não se deveria empregar dinheiro público com quem deseja se matar. Diriam: “Melhor que se fossem logo!”. Já ouvimos isso. Precisamos enxergar, por trás do risco de suicídio, os vários outros riscos e prejuízos associados, que acarretam perdas e sofrimento, como a violência, histórias de vida com traumas repetidos, como as situações de abuso, violência doméstica, bullying e tantas outras formas de sofrimento invisível. Estes afetam toda a sociedade e produzem perdas materiais e pessoais significativas e, às vezes, irreparáveis.
Tornamo-nos mais facilmente capazes de tolerar a situação de dor extrema, de impotência, de perda. Podemos ajudar a pessoa a se liberar das formas aprisionadas de organização da subjetividade e a desenvolver uma vida psíquica mais livre, de modo a operar mudanças significativas em seu meio e conquistar uma vida mais significativa e satisfatória. Ocupando esse lugar de sobrevivente, reconhecendo sua possibilidade concreta, mas priorizando, dentro de cada um, a reflexão subjetiva e sensível, podemos começar a ter esse olhar com mais cuidado, mais atenção, mais sensibilidade em todos os níveis dos serviços de saúde pública, seja este profissional um médico, enfermeiro, atendente, psiquiatra, psicólogo, assistente social, ou qualquer outro. Com a escuta verdadeira desse sofrimento, nós criamos uma condição que pode mudar radicalmente a vida dessa pessoa.
Parabenizo o Conselho Federal de Psicologia (CFP) por trazer à tona a discussão o tema do suicídio, que é tão importante para nós, psicólogas e psicólogos, enquanto profissionais das Ciências Humanas e das Ciências da Saúde. Temos que nos preocupar e pensar na formação da (o) psicóloga (o) para enfrentar problemas graves que abalam a nossa sociedade, como é o caso do suicídio.
Nos vários contextos da vida cotidiana, vamos encontrar vidas abaladas, vidas que passarão pelo luto em função desse fenômeno que vem aumentando em nossa sociedade. Vou focar em alguns elementos presentes no luto da família que perdeu seu ente querido por suicídio. Acredito que ajudar a família a lidar com essa dor é uma questão de prevenção ao suicídio, porque é sabido que, principalmente os mais jovens, os adolescentes e as crianças, são muito suscetíveis ao suicídio cometido por alguém próximo a eles, pois um dos fatores associados ao suicídio é ter tido alguém na família que cometeu o ato.
O primeiro ponto que quero trazer e que acho importante, é que, há pouco tempo, falava-se da provável ocorrência de luto patológico em relação a essa vivência pela morte do suicídio, mas não concordo com isso. O luto não é algo patológico, é uma vivência esperada pela perda de alguém querido e pode, em algumas circunstâncias, se tornar mais sofrido, principalmente nas condições em que o suicídio se dá. Os pesquisadores e a experiência têm mostrado que o luto pelo suicídio pode ser complicado, e este é um termo preferível ao patológico. É uma experiência, vivenciada de modo extremamente sofrido e isso pode ter algumas consequências.
É preciso acrescentar os fatores culturais, religiosos e sociais implicados na questão do luto e da própria concepção do suicídio. Determinadas concepções culpabilizam as pessoas em torno do suicida, o estigmatizam, de forma que os enlutados sofrem esse estigma, sentem-se envergonhados. Muitas vezes, a gente percebe que a pessoa que cometeu suicídio é condenada socialmente e junto com ela, a família. O luto por suicídio, por ser uma experiência dolorosa, difícil, traumática, cuja vivência se dá por intenso sofrimento psíquico, provoca, não raras vezes, adoecimentos físicos.
Podemos dizer que, de modo geral, há elementos comuns na vivência do luto dos sobreviventes que nos ajudam a pensar como eles vão passar, como vão apresentar sintomas similares aos sintomas da depressão, aos sintomas do transtorno, do estresse pós-traumático. Entre esses sintomas, há aqueles relacionados aos aspectos físicos, psicológicos e psíquicos. Observamos aqueles sintomas mais comuns como a dormência física, a anestesia emocional, o desprendimento da realidade, o isolamento, a perda de interesse por suas atividades cotidianas, por suas atividades no trabalho, de apetite, a fadiga, o cansaço, enfim, a prostração que é esperada em uma situação de perda importante.
Então eles não compartilham sua dor, evitam o contato social. A família e principalmente a mulher, por ser mãe, esposa, sente muita vergonha por não ter sido suficientemente cuidadora. Ela fica pensando que não cuidou suficientemente. Acha que foi negligente e tem medo que as pessoas pensem isso dela. É bom a gente considerar que a questão de gênero também perpassa não só a questão do suicídio, mas também a questão do luto dos sobreviventes.
Algo que costuma aparecer na vivência do luto por suicídio é a sensação de alívio misturada a sentimentos contraditórios, conflituosos com o sentimento de culpa. Isso acontece porque a família, muitas vezes, já vem lidando há muito tempo com o sofrimento daquela pessoa que encontrou na morte a solução para o seu sofrimento. A família pode vir lutando há muito tempo com comportamentos mais agressivos, com a falta de perspectiva que a pessoa tinha, com problemáticas ligadas ao transtorno mental, à dependência de drogas e outras dificuldades desse gênero. Então, a família pode já estar muito desgastada, fragilizada e debilitada, e passando ainda por esse momento de luto, ela fica com uma dinâmica bastante complicada.
Uma vez uma adolescente me perguntou: “Que porcaria de filha que eu sou? Que porcaria de filha que eu fui que minha mãe não conseguiu viver sequer por mim?” “Ela não conseguiu sequer viver pelos seus filhos!”. Então, os membros da família ficam extremamente abalados e se perguntando que sentido terá suas vidas agora que seu ente querido se matou e que sentido teve o suicídio dele, repercutindo em todas as suas vidas.
Então, a atenção ao luto dos sobreviventes deve preconizar, segundo o que penso, uma atitude extremamente acolhedora, uma atitude em que todos esses enlutados – seja a família, seja outro tipo de grupo (como escolares), seja um indivíduo - possam falar, possam compartilhar os seus sentimentos e possam se sentir seguros de que não serão julgados.
Então a saúde pública deve se preparar para acolher esse tipo de sofrimento e oferecer várias modalidades de atenção, de cuidado, como, por exemplo, a formação de grupos de enlutados. Grupo, nesses casos, funciona muito bem. O papel da estratégia Saúde da Família é fundamental na vigilância, no controle e na prevenção do suicídio, bem como no acompanhamento dos enlutados. Assim, os seus profissionais devem ser preparados para esse tipo de cuidado, para esse tipo de ocorrência e não só os profissionais da saúde – os profissionais da educação também têm um papel importante nessa questão.
<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="">É interessante que ações conjuntas, que extrapolem a intimidade individual e a intimidade do grupo familiar, sejam pensadas para acompanhar em todos os níveis e contextos essa situação, com atenção especial às crianças e aos adolescentes. E volto afirmar que, nesse aspecto, o contexto escolar é bastante importante. Ações nesses ambientes, no ambiente de trabalho, podem oferecer esse tipo de acolhimento e suporte. Devemos pensar como chegar, como atuar de um modo mais incisivo, procurando desenvolver habilidades nas pessoas desde muito cedo para enfrentar frustrações, para enfrentar adversidades. Penso então que, no aspecto da formação profissional, devemos pensar em uma educação para a morte no geral. A morte faz parte da vida e pensar na morte, pensar no sofrimento decorrido dela, é pensar na vida.
Debatedores: Marcelo da Silva Araújo Tavares, Lúcia Cecília da Silva e Carlos Coloma
Coordenação da Mesa: Celso Francisco Tondin
Marcelo da Silva Araújo Tavares