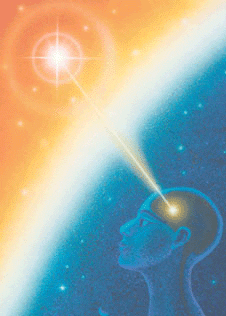Admirável trabalho novo?
Os impactos econômicos e sociais das mudanças no mundo do trabalho e a posição de especialistas e profissionais diante dessas transformações
 |
Ao longo dos últimos anos vem se observando, em diversas partes do mundo, uma modificação nas formas e estruturas de trabalho. Se por um lado percebemos a alta taxa de desemprego, a falta de estabilidade nas empresas, a tercerização e a ausência de registros profissionais, de outro ouvimos de consultores promessas de mais flexibilidade nos horários de trabalho, maior autonomia na produção, mais capacitação e interação do profissional. Devemos boa parte dessas modificações às mudanças dos paradigmas do trabalho, às inovações tecnológicas e à globalização, que rompeu com as barreiras da distância. Quais são os impactos positivos e os negativos dessas modificações?
Assim como a sociedade industrial do início do século XX se viu centrada nas relações trabalhador e indústria, vivemos hoje uma nova dinâmica social moldada não só pela era digital, na qual outras interações se criam e transformam a forma de vermos o mundo, mas pela rapidez e instabilidade derivada dela. Entretanto, essas mesmas armas que em certo aspecto facilitam, em outros tantos dificultam, exigindo ainda mais dos profissionais, que agora não se sustentam ao dominar apenas o conhecimento de sua função. Além disso, existe um outro fator de angústia: ter de lidar com a falta de vínculos, o desemprego e a efemeridade dos contratos trabalhistas.
As modificações nas relações de trabalho não afetam apenas o setor profissional, mas a dinâmica social. "O mundo vive transformações radicais, a produção do conhecimento e as conquistas tecnológicas assumem uma velocidade muito intensa. Estas modificações influenciam o mercado de trabalho exigindo um profissional que se atualize constantemente e que se aproprie da tecnologia a serviço de seu foco profissional", exemplifica o psicólogo Alexandre Rivero.
Entretanto, como afirma o sociólogo e historiador norte-americano Richard Sennett, professor de Sociologia e História na London School of Economics e autor de um livro clássico sobre o mundo do trabalho, "A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo" (Editora Record), os últimos anos não foram os melhores para os trabalhadores. Um dos fatores é o aumento do volume de atividades sem a elevação compatível de salário e benefícios. O sociólogo também vê com preocupação uma das principais mudanças na organização do trabalho, que é a perda da identidade. Sennett aponta ainda para questões como a falta de vínculo com o local de trabalho, a diminuição, ou melhor, a perda dos laços de solidariedade dentro da empresa, a degradação e humilhação na seleção de profissionais. Para completar, o alto escalão de uma empresa e os níveis gerenciais mostram-se pouco comprometidos com essas "consequências pessoais do novo capitalismo" (não por acaso o subtítulo da obra de Sennett), ou mascaram isso com ações recreativas supostamente voltadas para uma maior "qualidade de vida" dos seus "colaboradores".
"O MUNDO VIVE TRANSFORMAÇÕES RADICAIS, A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E AS CONQUISTAS TECNOLÓGICAS ASSUMEM UMA VELOCIDADE MUITO INTENSA" ALEXANDRE RIVERO, PSICÓLOGO
A análise de Sennett vai longe e aprofunda-se na dinâmica social. Em "A corrosão do caráter", ele afirma que o capitalismo vive na atualidade um novo momento, de natureza flexível. Sennett inicia o prefácio do livro lembrando que "A expressão 'capitalismo flexível' descreve hoje um sistema que é mais que uma variação do mesmo tema. Enfatiza-se a flexibilidade. Atacam-se as formas rígidas da burocracia, e também os males da rotina cega. Pede-se que os trabalhadores sejam ágeis, estejam abertos a mudanças de curto prazo, assumam riscos continuamente, dependam cada vez menos de leis e procedimentos formais".
Portanto, de acordo com o autor, essa "nova ordem" capitalista afeta a tal ponto os indivíduos, que não lhes oferece condições para uma construção linear de vida baseada em suas experiências. Ao contrário do trabalhador no modelo fordista do passado que, embora imerso na burocracia, rotina e alienação, possuía uma trajetória constante e expectativas de longo prazo. Atualmente, isso já não é tão possível devido a uma dinâmica de incertezas, mudanças de emprego e de cidade e o sucessivo rompimento de laços. As relações centrais, outrora vistas e sentidas na coletividade, passam a ser individulizadas, extrapolam o mundo do trabalho e se estendem a toda forma de sociabilidade. Em um mundo fragmentado, de relações efêmeras, cortadas, instáveis, sem continuidade, tampouco margem de segurança, tudo, inclusive o trabalho, perde a referência e a compreensão.
Não são apenas as formas de trabalho que se tornaram flexíveis, mas as de poder. Em um sociedade em que nada é contínuo, é preciso reinventar a estrutura das instituições. No entanto, embora na superfície pareça que a equipe possui autonomia, ainda é o capitalista quem dá as cartas. A única novidade nesse processo é a maneira e o lugar onde, em muitas áreas e profissões, ocorre tal expediente. Troca-se a empresa pela casa e o controle face a face pelo meio eletrônico.
Essa estrutura de trabalho não só enfatiza a já comentada ausência de vínculos estáveis entre empregado e empresa, como gera uma desordem social e na identidade do trabalhador. Dentro desse sistema passa-se também a valorizar o jovem (embora, paradoxalmente, exiga-se dele experiência), pois eles seriam mais flexíveis e adaptáveis a várias circunstâncias.
Para finalizar as colocações aterradoras de Sennett, as relações impessoais de trabalho irão afetar diretamente as sociais e vice-versa. Estabelecendo relações superficiais, descartáveis, cujos laços de lealdade e compromissos são tão frouxos quanto a efemeridade do curto prazo de trabalho. "Em um regime que não oferece aos seres humanos motivos para ligarem uns para os outros não pode preservar sua legitimidade por muito tempo", ressalta o autor.
"A EXPRESSÃO 'CAPITALISMO FLEXÍVEL' DESCREVE HOJE UM SISTEMA QUE É MAIS QUE UMA VARIAÇÃO DO MESMO TEMA. ENFATIZA-SE A FLEXIBILIDADE. ATACAM-SE AS FORMAS RÍGIDAS DA BUROCRACIA, E TAMBÉM OS MALES DA ROTINA CEGA. PEDE-SE QUE OS TRABALHADORES SEJAM ÁGEIS, ESTEJAM ABERTOS A MUDANÇAS DE CURTO PRAZO, ASSUMAM RISCOS CONTINUAMENTE, DEPENDAM CADA VEZ MENOS DE LEIS E PROCEDIMENTOS FORMAIS" RICHARD SENNETT, SOCIÓLOGO E AUTOR DE "A CORROSÃO DO CARÁTER : CONSEQÜÊNCIAS PESSOAIS DO TRABALHO NO NOVO CAPITALISMO ".
 |
 |
De onde vem? segundo Deonísio da silva, autor de "De onde vem as palavras", da editora Novo século, a palavra "trabalho" nasceu do latim tripalium, tripálio, que é o nome de um instrumento de tortura composto de três estacas, ao qual era submetido o condenado, isso quando não empalado em uma delas e ali deixado para morrer. Entretanto, segundo o autor, a ideia do trabalho como sofrimento não estava presente na etimologia latina, pois o verbo trabalhar era laborare e trabalho, labor. No italiano predominou as palavras lavorare e lavoro.
TRABALHO X EMPREGO
Não devemos nos alongar em buscas sobre as relações de trabalho desde os primórdios da humanidade, mas salta aos olhos o que se observa a partir da Revolução Industrial, com o chamado "gerenciamento científico", modelo de gestão criado por Frederick Taylor, no final do século XIX. "É importante voltarmos até esta época, porque aqui no brasil, estamos já no final da primeira década do século XXI e várias empresas ainda persistem adotando o modelo de gestão taylorista", afirma Maria Aparecida Araújo.
O trabalho de Taylor baseou-se em suas observações da rotina dos operários da bethlehem steel, vendo-os carregarem seus caminhões de frete, com peças fundidas de ferro. Ele analisou como levantavam a carga, organizavam-se, com que frequência descarregavam e se dispôs a lhes ensinar como aumentar sua produtividade com o mesmo esforço. Naquela época a fábrica era um lugar caótico, comparado aos padrões que hoje conhecemos. O engenheiro fazia o projeto, o mecânico decidia como fazer a peça, solicitava o material, passava as instruções de feitura e esta ficava pronta. Não havia controle de estoques e muito menos produção programada. Tudo dependia do mecânico- chefe.
Taylor então transferiu a autoridade deste mecânico- chefe para o chefe de produção e o resultado foi um aumento espantoso na produtividade, elevando-se com isto o padrão de vida dos operários americanos, que passaram a ser os mais bem pagos no mundo naquela época. Apesar disso, o enfoque de Taylor teve um lado desastroso, pois sua mensagem para os operários era: "Deixem seus cérebros do lado de fora da empresa!". Isto gerou um antagonismo entre operários e gerentes, pois confirmava a ideia de que só eles deveriam pensar, ficando os operários encarregados somente da execução. Usavam, portanto, somente sua força física. A produtividade era então um conceito associado somente à quantidade de produção.
Para os operários, a alternativa era aceitar esta situação, pois eram remunerados e permaneciam nas empresas durante anos, fazendo as mesmas coisas. Apesar da falsa impressão de estabilidade, eles se ressentiam por não terem status nem participação nas decisões. segundo o economista cláudio pelizari, os conceitos tayloristas levaram a ganhos enormes, bem como definiram os papéis de gerentes e subordinados por muito tempo. Essa assimetria manifestava-se nas atitudes centralizadoras e autocráticas. O empregado era considerado um mero recurso que poderia ser sacrificado por motivos estratégicos, podendo ser substituído sempre que necessário, tal como as máquinas.
saía-se do foco no produto, para o foco no cliente e em suas necessidades e requisitos. Juntamente com esta mudança de paradigma, veio a nova concepção do homem dentro das empresas
Este modelo persistiu confortavelmente até o final dos anos 1960, ainda colhendo os frutos residuais da grande demanda por bens e serviços surgida depois da segunda guerra Mundial. com a primeira crise do petróleo, no início da década de 1970, houve um período de recessão, e as empresas norte-americanas começaram a ter que competir num mercado cada vez mais agressivo e mundializado, enfrentando a concorrência dos países que agora se reerguiam: Alemanha e Japão. porém, viu-se que a pátria de Henry Ford - e seu modelo fordista - acostumara-se aos modelos obsoletos de produtividade e que visava somente ao lucro financeiro imediato.
Nesta época dois cidadãos norte-americanos, Edward Demming e J. Juran, depois de fracassadas tentativas de conscientizarem seus compatriotas sobre a necessidade de mudar seus paradigmas de gestão, encontraram grande receptividade no Japão. Os japoneses não só os ouviram como adotaram seu modelo, e dentro de alguns anos tornaram-se os principais concorrentes da Ford e GM, vendendo seus carros no próprio mercado interno dos EUA.
S ó na década de 1980 as empresas americanas acordaram para o que já se transformara numa espécie de segunda revolução industrial. Segundo o discurso das empresas, a produtividade passou agora a ser vista não mais como a quantidade de produtos e sim a união de quantidade com qualidade. Saía-se do foco no produto, para o foco no cliente e em suas necessidades e requisitos. Juntamente com esta mudança de paradigma, veio a nova concepção do homem dentro das empresas. Para se fazer algo com qualidade é preciso do comprometimento das pessoas.
Elas é que fazem a qualidade. Elas é que aumentam a produtividade, elas é que fazem crescer o lucro, elas é que fidelizam os clientes. Não pode existir qualidade sem que o homem exercite sua criatividade. O cliente busca a inovação. A inovação só acontece quando as pessoas não têm medo de tentar fazer as coisas. Resumindo: agora o cérebro tem que estar dentro das empresas. Obviamente, o "gênio criativo" deve submeter-se às regras do mercado.
GLOBALIZAÇÃO E PÓS-MODERNISMO
A preocupação com as modificações e influências da globalização no mercado de trabalho e na vida social não são ressaltadas apenas por Richard Sennett. Pesquisadores como Sônia Maria Guimarães Laranjeira, professora titular do Departamento de Sociologia e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IFCHUFRGS), discorrem sobre a questão a partir de enfoques variados, com o intuito de refletir - e encontrar caminhos - para uma nova relação entre o profissional e o trabalho. Em seu texto "As transformações do trabalho num mundo globalizado" (Rev. Sociologias, n º4,.2000), Sônia Laranjeira entende que a digitalização, por exemplo, representa uma mudança de paradigma, pois por intermédio dessa tecnologia estrutura-se uma nova lógica de ação sobre o mundo.
Um dos maiores sociólogos brasileiros de todos os tempos, Octávio Ianni (1926-2004) dedicou boa parte de seus estudos para examinar o "enigma da modernidade-mundo" e as "teorias da globalização", por sinal títulos de dois de seus livros publicados pela editora Civilização Brasileira. No artigo "As ciências sociais e a modernidade-mundo: uma ruptura epistemológica", publicado em 2001 na Revista de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ianni analisa o mundo como sendo atravessado por uma ruptura histórica tão avassaladora quanto um terremoto inesperado, por isso capaz de transformar os modos de vida e de trabalho radicalmente, bem como suas formas de sociabilidade e ideais. Ianni complementa: "Tudo o que parecia estável, transforma-se, recria-se ou dissolve-se. Nada permanece. E o que permanece já não é mais a mesma coisa. Alteram-se as relações do presente com o passado; e o futuro parece ainda mais incerto. O que predomina é o dado imediato do que se vê, ouve, sente, faz, produz, consome, desfruta, carece, sofre, padece".
"O MUNDO VIVE TRANSFORMAÇÕES RADICAIS, A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E AS CONQUISTAS TECNOLÓGICAS ASSUMEM UMA VELOCIDADE MUITO INTENSA. ESTAS MODIFICAÇÕES INFLUENCIAM O MERCADO DE TRABALHO EXIGINDO UM PROFISSIONAL QUE SE ATUALIZE CONSTANTEMENTE E QUE SE APROPRIE DA TECNOLOGIA A SERVIÇO DE SEU FOCO PROFISSIONAL" ALEXANDRE RIVERO, PSICÓLOGO.
|
ÓCIO PODE SER CRIATIVO A criatividade é o maior capital de uma empresa. apesar dessa máxima pregada feito mantra pelos consultores e empregadores, a sociedade do trabalhador do conhecimento ainda é gerenciada por critérios da sociedade industrial. crítico desse modelo, o sociólogo italiano Domenico De Masi propôs um modelo social não centrado na idolatria do trabalho, mas sim na simultaneidade entre trabalho, estudo e lazer. suas ideias se fundamentam na constatação de que hoje teríamos um maior tempo livre e o ser humano executaria muito mais trabalhos intelectuais que manuais - cada vez mais realizados por máquinas e ferramentas. imagine as transições do mundo, passando da Era do caçador/coletor para a Era agrícola, depois para a Era industrial até a Era do conhecimento. Cada momento representou um aumento na produtividade de pelo menos 50 vezes o que se conseguia na era anterior. isto significa que o tempo gasto na obtenção das coisas necessárias à manutenção da vida diminuiu muito. além do mais, é importante lembrar que a expectativa de vida da população, que no caso do Brasil era de 43 anos em 1940, aumentou muito, ultrapassando os 73 anos. Nossos avós viviam 300 mil horas e trabalhavam 120 mil, hoje nós vivemos mais de 700 mil horas e trabalhamos 70 mil horas. Enquanto eles trabalhavam quase metade da vida, nós trabalhamos um décimo e, não fomos educados para ter tanto tempo livre. A empresa tampouco ajuda nisso. as práticas gerenciais da Era industrial fazem com que um executivo que pode realizar o seu trabalho diário em cinco ou seis horas acabe trabalhando até dez horas. No fim de semana leva trabalho para a casa, e quando está em férias liga sempre para o escritório. Quando aos 55 ou 60 anos se aposenta tem ainda 20 ou 30 anos de vida e, muitas vezes não sabe o que fazer. A distinção entre tempo de estudo quando jovem, tempo de trabalho na maturidade e aposentadoria quando velho é um contrassenso. a velhice não se calcula em relação ao nascimento, mas em relação à morte; somente podemos ser considerados velhos nos dois últimos anos de vida. a vida fisicamente produtiva pode chegar a 80 anos, portanto é razoável que o seja também psiquicamente. É uma grande perda para a sociedade como um todo que se desperdice esse talento. Quando De Masi fala em "ócio criativo", ressalta-se a forma como uma pessoa deve utilizar o seu tempo. Trabalho, aprendizado e lazer devem se confundir em todas as fases da vida. "a grande importância da criatividade reside no fato de que é a partir dela que surgem inovações e melhores formas de fazer muitas coisas do dia a dia. a criatividade de um país ou de uma empresa é medida pelo número de patentes registradas por ano", lembra cláudio F. Pelizari. Segundo De Masi, o estímulo da criatividade humana pode vir por meio de atividades lúdicas, devaneios, imaginação ou até fora do local de trabalho. Uma boa ideia não tem hora para acontecer, pode acontecer no banho, num momento de introspecção, no cinema ou brincando com uma criança. Mas essa criatividade em muitas situações se circunscreve dentro dos parâmetros da produtividade e da lógica capitalista. Tem um caráter utilitarista flagrante. se a pessoa não se sente bem no escritório, seja porque não há um bom clima, os gerentes e colegas são antipáticos e mal-educados, não existe respeito e motivação, será muito difícil que surjam novas ideias. Para as teorias administrativas contemporâneas, obcecadas pela inovação, uma pessoa criativa é uma promessa de futuro e lucratividade. PARA SABER MAIS: MASI, Domenico de. O ócio criativo. Rio de Janeiro: Editora sexante, 2000. LEON, vicki. Meu chefe é um senhor de escravos. Rio de Janeiro: Editora globo, 2007. SILVA, Deonísio. De onde vem as palavras. Editora Novo século, 2009 A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo(Editora Record, 1999). ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do trabalho - Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. Boitempo Editorial, 2000. DEJOURS, christophe . A loucura do trabalho. Editora cortez, 2003. HARVEY, David. Condição pós- moderna. Editora loyola, 1992. ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy. Infoproletários: degradação real do trabalho virtual. boitempo Editorial, 2009.
|
|
|